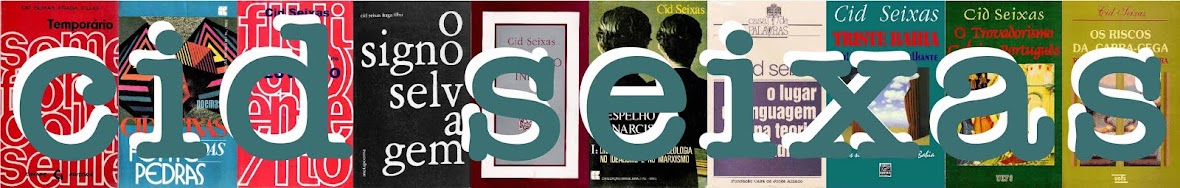28/10/2015
Guido Guerra
Guido Guerra,
um criador de
mundos paralelos
Por Cid Seixas
Foi num dia
sombrio deste ano de Nosso Senhor que Guido Guerra partiu de corpo alma para o
desconhecido mundo dos ausentes.
Como não
poderia deixar de ser, jornais e revistas registraram o fato. É o que faz agora
este número de Iararana.
Para atender
ao convite, foram selecionados trechos de alguns artigos escritos em lugares e
tempos diversos sobre o autor de Vila
Nova da Rainha Doida, sua obra mais representativa. Como colagem feita no
calor da hora, para entrar na gráfica, o que aqui se publica sob os títulos
“Recordações do escrivão Guido Guerra” ou “Perfil de um criador de mundos
paralelos” é algo fragmentário e pouco representativo da obra múltipla deste
jornalista, contista e romancista que deixou sua marca generosa e explosiva não
apenas na literatura baiana, mas no seu contexto cultural.
Joana
Felicidade:
A ironia que afirma
A ironia que afirma
Guido Guerra, ficcionista e repórter
formado na turbulência de uma redação de jornal, durante os primeiros anos de inquisição
e arbítrio impostos pelo golpe militar de 64, começou como repórter policial e
terminou como cronista diário, onde o astuciado cedia lugar ao acontecido. Mas
nada foi por acaso, nenhuma experiência ficou solta no passado sem resposta
futura — como, por exemplo, a passagem pelo setor político do jornal. Seu
trajeto e seu aprendizado estiveram sempre circunscritos ao cotidiano do homem,
quer na tragicomédia do submundo das crônicas policiais ou no drama silencioso
da opressão política. Talvez, por isso mesmo, o compromisso do ficcionista de
hoje não desdenhe da dura realidade
partilhada, através da pena, pelo repórter de ontem.
Os temas que
servem de material narrativo ao seu livro Ela
se chama Joana Felicidade (Rio de Janeiro, Record, 1984, 118 p.) são um só:
a vida do homem. O cotidiano com sua tragédia habitual, homeopática, gradativa
e, por isso mesmo, capaz de subjugar sem revolta ou reação mais conseqüentes.
Essa dimensão trágica da vida que Guido Guerra procura sublinhar em cores
metonímicas, caricaturais, portanto, é narrada com ironia, como se quisesse
negá-la, arrancá-la do infortúnio dos homens. Mas a negação, sabemos, é a
primeira forma de aceitação do difícil ou do recalcado. Aquilo que eu não posso
dizer nem permitir aflorar à consciência, em forma de palavra, insiste em se
fazer ouvir como palavra invertida, que se nega. Negando-se, afirma-se. E a
escrita de Guerra sabe disso, ao se valer da ironia.
Embora o jornalista e o escritor caminhem
juntos, conforme se vê na opção deste autor, há no entanto um ponto crucial
onde o ficcionista rompe com o repórter: se no registro jornalístico os fatos e
acontecimentos chegam ao texto marcados pelo distanciamento de quem escreve
(exigência do chamado jornalismo informativo, objetivo, que privilegia a
notícia), nas páginas ficcionais o universo das criaturas se desenrola como o
centro de um sistema solar a atrair o comprometimento emocional do criador.
Enquanto no texto jornalístico, o
acontecimento e o repórter formam dois mundos paralelos, na tessitura absurda e
possível do mundo ficcional — que é o paraíso perdido da encenação do desejo —
a criatura e o criador comungam o mesmo original pecado e se interpenetram no
ato de amor da escrita.
É por isso que, na ficção, não só o
criador mas também a criatura está investida na função de narrar, atuando como
personagem e diretor da representação; como passista e mestre sala no carnaval
do invento.
Na reportagem jornalística, quem narra é
sempre o autor do texto. Na ficção, a personagem toma a palavra do autor que se
faz narrador e conta a história a partir do seu ponto de vista. Mas o autor não
protesta. Porque apesar de todas as teorias do texto literário, de toda
assepsia estrutural, neo-positivista, a penetração do criador na criatura
projeta em um o desejo do outro, criando um espaço único e diverso. Um é o
espelho do outro. É sempre preciso não confundir o criador com a criatura, não
atribuir a um o caráter do outro. O poeta é um fingidor, nos ensina um dos mais
verdadeiros poetas do fingimento, que no próprio nome — Pessoa — se confunde
com a persona, máscara ou personagem.
Mas é sempre preciso também saber que um é o outro, como o corpo de Deus é a
sua alma. A criatura é o criador.
E Guido Guerra nos dá belos exemplos,
cedendo a função de narrar às criaturas, às personagens. Na primeira parte do
livro, "O sorriso dos mortos", o narrador que nos introduz à história
pode ser o autor, que, pouco a pouco, cede lugar ao diálogo — elemento
preponderante na linguagem ficcional de Guerra —, mas o diálogo cresce de tal
modo que a fala das personagens ganha estatura de uma nova narrativa. Assim, os
capítulos do conto (ou, se preferirem, da novela) que abre o livro são marcados
pela troca de posição entre João e Joana enquanto narradores intercalados.
Trata-se, portanto, de um grande diálogo experimentalmente transformado em
ponto de vista, ou foco narrativo, que sob o ângulo estrutural se constitui num
bom pretexto para discussões teóricas sobre o fazer ficcional.
A outra parte do livro, "O santo
rosto de papel", é um grande monólogo, onde uma velha moradora dos
Alagados, conversando com sua solidão e sua viuvez nos permite conhecer a
história. Trata-se, portanto, do mesmo fenômeno anterior: o diálogo ou a fala
da personagem cresce de tal modo que toma o lugar da narração, se transformando
na própria narração e transformando o personagem em narrador.
De resto, é conveniente lembrar que o
processo vem sendo trabalhado por Guido Guerra nos últimos livros, como em Lili Passeata, também publicado pela
Record. Ela se chama Joana Felicidade
é um livro onde o autor tem oportunidade de testar perante o público, de forma
ousada, este seu experimento com a linguagem ficcional. Mas como a literatura
não conhece fronteira entre o fato e o ato de contar, entre o discurso e o
curso dos acontecimentos, a linguagem ficcional é ela mesma a obra de ficção.
Com isso quero dizer que se o recurso empregado pelo autor é bom, bom também
será o resultado — sua obra. Isto Guido Guerra aprendeu com a maturidade,
quando o texto do escritor de hoje ganha a mesma segurança do texto do
jornalista de sempre.
Guido
Guerra, ensaísta-autor
de uma reportagem sentimental
Um menino, filho de italianos, com seu
registro de tenor, participando, em 1903, da ópera Carmem, de Bizet, impressionou de tal forma a Caruso, que o grande
lírico queria levá-lo para Itália e ensiná-lo os segredos da sua arte. Mas ele
preferiu ficar no Brasil e trocar a iniciação no canto lírico por uma carreira
na música popular. Este é um dos fatos que envolvem a vida de Vicente
Celestino, um dos maiores fenômenos da nossa música popular, ao lado de
contemporâneos como Francisco
Alves e Orlando Silva.
Quando se comemora nos palcos do Rio de
Janeiro o centenário de nascimento desse artista, Guido Guerra publica pela
Record O hóspede das tempestades.
Autor conhecido através dos seus livros
de contos, ou de romances de ressonância nacional, além de cronista com passagem por vários jornais, Guido Guerra
“abandona temporariamente a ficção”, conforme as palavras do seu editor, para
apresentar ao público um livro escrito com ternura e admiração. Trata-se de um
conjunto de textos díspares em torno da vida e da obra do tenor Vicente
Celestino.
O
hóspede das tempestades é um livro montado pela reunião de sete textos
ou capítulos. Embora denominado pelo autor de ensaio-reportagem, rótulo que se
aplica à maioria dos textos, dois deles, o primeiro e o último, merecem
destaque por não se enquadrarem nesta designação.
“O mito à sombra do homem”, primeiro
capítulo do livro, é um exercício de escrita que leva o leitor a imaginar que O hóspede das tempestades se constrói
como uma espécie de biografia romanceada. Aí, o narrador é um jovem repórter
dos Diários Associados que passa de entrevistador a amigo de Vicente Celestino.
A sobreposição de episódios e a substituição do tempo cronológico da narrativa
pelo tempo psicológico remetem o leitor ao território do romance-documento.
Mas nos cinco capítulos seguintes, Guido
Guerra muda completamente de estilo, assumindo o lugar do ensaísta, ou mesmo do
repórter objetivo, embora crítico. O último capítulo, “A voz orgulho do Brasil”,
é uma reunião das várias entrevistas, em forma de pergunta e resposta, que
Guido publicou na imprensa baiana com Vicente Celestino. Ao contrário do que
disse José Ramos Tinhorão, em
crítica ao livro, a transcrição destes documentos, mesmo tendo servido de base
aos textos anteriores, não são redundantes. Testemunham, de modo direto, e sem
a refração do olhar do outro, a profunda lucidez e o senso crítico do velho
tenor. É admirável a compreensão que um cantor e compositor da chamada velha
guarda tem dos novos movimentos e do lugar que lhe é reservado. Não acalenta
ilusões, mesmo diante de homenagens e palavras de reconhecimento, como o título
de expressão máxima da música brasileira, que lhe foi conferido pelo Festival
Internacional da Canção, realizado em 1967, no Rio de Janeiro.
Vicente Celestino sabia que sua música
não tinha mais lugar no gosto das novas gerações. Ele diz, numa das entrevistas
a Guido Guerra, que ”cai bem reverenciar uma figura do passado, homenagear um
velho cantor que conheceu os píncaros da glória, cuja popularidade ninguém
discute: circulam piadas com meu nome, lendas de que quebrei copos de cristal
com um simples agudo, que desafiei tenores para um dó-de-peito, coisas que
estão enraizadas no anedotário popular. Quando uma mulher tinha seios volumosos,
dizia-se que tinha mais peito que Vicente Celestino. Pois bem, retomando o fio
da meada: uma coisa é o reconhecimento pelo que se fez. Outra é premiar pelo
que se faz agora, no presente. No caso, foi uma homenagem hors concurs. Não é a mesma coisa. Se eu me inscrevesse, se
disputasse uma classificação, aí a coisa seria bem diferente. Eu não estou
enquadrado no que, hoje, o bom gosto musical consagra.”
Ele percebeu como os compositores e
intérpretes da Bossa Nova criaram uma nova estética musical, destinada a
sepultar o velho estilo de cantar. E afirma: “Ela veio porque teria de vir,
porque os jovens surgiram em busca de caminho. Uma geração não se afirma
copiando a outra, mas negando-a.” E acrescenta, comparando a durabilidade dos
movimentos e modas em outros países com o consumismo relâmpago instaurado no
Brasil: “Quando o rock surgiu nos
Estados Unidos, com Elvis Plesley, não inviabilizou a balada, o fox, o blues, o jazz. Havia espaço para todas as vertentes. No Brasil, quando uma
moda pega, parece que vira a cabeça de todo mundo e nada mais presta. Isto é
terrível, porque cria uma unanimidade estética, um padrão exclusivo de cantar e
compor, de ver o mundo sob a mesma ótica, ou seja, não se cria o confronto
entre as várias tendências artísticas.”
Vê-se, portanto, como as reflexões do
velho tenor continuam atuais, sendo de extrema importância a transcrição das
suas próprias palavras, nas entrevistas concedidas a Guido Guerra.
O capítulo inicial e o final do livro O hóspede das tempestades, divergentes
que são do corpo deste ensaio reportagem, cumprem porém um papel bem definido.
O primeiro dá lugar à livre imaginação, redimensionando e refazendo os fatos
acontecidos, o segundo amarra estes acontecimentos à estrita realidade.
Creio que o ponto forte do livro de Guido
Guerra é a sua intimidade com o objeto eleito, a sua profunda e não ocultada
simpatia por Vicente Celestino. Pelo homem e pelo artista. Esse amor e essa proximidade
obrigam o autor do livro a conhecer e nos revelar muito deste artista.
Se os capítulos que fixam a trajetória de
Vicente Celestino revelam uma intimidade produtiva com o objeto da sua análise,
o mesmo não se pode dizer do capítulo em que Guido Guerra analisa
movimentos como a Bossa Nova, a Tropicália e a Jovem Guarda. Isso, críticos de
música popular já o fizeram melhor. Mas tal incursão foi sentida pelo autor
como uma necessidade de contextualização de Vicente Celestino.
São justas as suas reflexões sobre diversos fatos da carreira do compositor-intérprete. Quando, no auge das reverências e irreverências do Tropicalismo, Caetano gravou um dos dramalhões musicais mais conhecidos de Vicente Celestino, público e artistas se dividiram no modo de receber e interpretar o acontecimento. Com isenção e propriedade, Guido Guerra observa no seu livro: “A interpretação de Coração Materno, na recriação de Caetano Veloso, demarcaria as diferenças entre o movimento nascente e o agonizante: a expectativa, anunciada a gravação, era de um tom crítico que expusesse o velho cantor ao ridículo, o que não ocorreu: observou-se, ao contrário, a supressão da carga dramática pela valorização da letra e, por via travessa, do conteúdo trágico; e aí saltava à vista o conflito entre duas gerações”.
São justas as suas reflexões sobre diversos fatos da carreira do compositor-intérprete. Quando, no auge das reverências e irreverências do Tropicalismo, Caetano gravou um dos dramalhões musicais mais conhecidos de Vicente Celestino, público e artistas se dividiram no modo de receber e interpretar o acontecimento. Com isenção e propriedade, Guido Guerra observa no seu livro: “A interpretação de Coração Materno, na recriação de Caetano Veloso, demarcaria as diferenças entre o movimento nascente e o agonizante: a expectativa, anunciada a gravação, era de um tom crítico que expusesse o velho cantor ao ridículo, o que não ocorreu: observou-se, ao contrário, a supressão da carga dramática pela valorização da letra e, por via travessa, do conteúdo trágico; e aí saltava à vista o conflito entre duas gerações”.
Para os admiradores de Vicente Celestino,
a publicação de O hóspede das tempestades
é uma excelente oportunidade de reencontro com o velho tenor. Nessa celebração,
envolvendo o autor e os leitores, a cumplicidade da emoção fala mais alto e
renova na lembrança o tempo as auroras
puras.
O
impassível fluir do trágico:
maturidade
da escrita
Depois de
bem sucedidas incursões pelo vasto território do romance, Guido Guerra volta ao
conto, escrevendo páginas da melhor qualidade em Vila Nova da Rainha Doida. Ele saltou da crônica diária do jornal
para as páginas do livro quando ainda não conhecia o fluxo das traiçoeiras
correntezas do rio, cortado por pedras, quedas d’água e cachoeiras – o curso da
escrita.
Os contos de Dura realidade, publicados em 1965 pela
Editora Progresso, marcaram a estreia de um escritor que em quase nada deixava
entrever o ficcionista da maturidade. Na
casa do sem jeito, livro de crônicas que veio em seguida, traziam para o livro
a irreverente figura do Papagaio Devasso, uma espécie de Boca do Inferno dos
inquietos anos sessenta.
* * *
A partir do final dos anos 70,
Guido Guerra construiu seu espaço no quadro da ficção e, especialmente, do
romance brasileiro com livros como O
último salão grená, Lili Passeata, Quatro estrelas no pijama e Ela se chama
Joana Felicidade, publicados pela Civilização Brasileira, pelo Clube do
Livro e depois pela Record.
Jornalista por formação,
começou pela narrativa curta, pela história feita para ser lida de uma só fôlego.
História que reunia a agilidade da reportagem e o humor circunstancial da
crônica. Depois, ele descobriu que precisava do tempo e do espaço romanescos
para conferir densidade aos seus personagens, muitos deles nascidos do texto
perecível de jornal.
Chegando ao romance, Guerra
apurou sua artilharia narrativa e amadureceu como escritor. Vila Nova da Rainha Doida é o retorno do
escritor ao campo de desafios da história curta. Neste livro ele realiza alguns
contos exemplares, capazes de permanecer na mente do leitor engendrando outras
palavras. Palavras ditas do interior de cada um de nós quando tecemos o fio de
ligação entre o destino dos seus personagens e o nosso cotidiano de leitores.
Outros contos, no entanto,
permeiam a crônica, com sua despretensiosa espontaneidade, onde o anedótico se
sobrepõe à astúcia fabulativa. São histórias que não alcançaram o mesmo nível
de linguagem e fabulação que carateriza o livro como um conjunto, como um todo
formado por cordilheiras ensolaradas e vales sombrios. Mas as boas histórias
compensam plenamente os momentos em que o cronista do cotidiano aligeirado
insiste em ocupar espaço nestas quase duzentas páginas de Vila Nova da Rainha Doida.
O mundo rural, as pequenas
cidades do interior, tomadas como metáforas confortáveis da sociedade global,
constituem o território mais luminoso da narrativa de Guido Guerra, o espaço
onde ele realiza melhor o trabalho ficcional. As histórias transcorridas nesse
mundo emblemático são as mais fascinantes, a exemplo daquelas passadas em Mirante dos Aflitos ,
cidade do Coronel Duarte e do seu fiel escudeiro Tibério Boa Morte.
Nesse espaço denso e trágico o
ficcionista pôde alcançar seus mais bem acabados relatos, transpondo para o
domínio distante das ficções do interior, a opressão e a injustiça que
caracterizam a reluzente miséria do neo-liberalismo.
Sem fazer apologia dos
deserdados e sem macaquear o engajamento dos anos sessenta, o texto desse
escritor dispara certeiro e objetivo, guardando nos cofres do faz de conta os
tesouros da solidariedade e da denúncia mais conseqüentes.
A força da tragédia banal dos
homens simples é, às vezes, arrefecida pela busca do humor. Em meio ao
desapontamento do narrador e do leitor diante das impassíveis engrenagens da
máquina do mundo, Guido Guerra recorre ao humor de conformação um tanto irônica
e cáustica, quebrando a tensão da narrativa. Mas os melhores momentos são
aqueles em que ele enfrenta o destino das suas criaturas de papel, deixando que
elas executem movimentos de desespero e resignação contra a rede da vida.
Deixando que elas encenem o gesto falido ou o ensaio mambembe desse drama, cujo
roteiro todos gostaríamos de reescrever. Mas o drama não se passa num palco,
porém nas ruas do nosso tempo, onde o riso desconcertado toma o lugar que
poderia ser ocupado por um soco no vazio – ou pelo impassível fluir do trágico.
Guido Guerra: do jornalismo
à criação literária
Auto-Retrato
é um livro que se escreveu a muitas mãos e há muitos anos; ou melhor, ao longo
dos anos. As mãos do escritor maduro e com seguro domínio dos seus instrumentos
de trabalho, reunindo os textos que compõem este livro de retalhos, ao
completar sessenta anos, não são as mesmas mãos do incipiente cronista que, nos
anos sessenta, verteu pelas páginas do velho Diário de Notícias golfadas de mel e de fel, às vezes misturadas
numa mesma taça. São outras também, diversas das do cronista de Na casa do sem jeito, as mãos que
escreveram O último salão grená e
aquelas outras, definitivamente seguras, que traçaram as linhas precisas de Vila Nova da Rainha Doida.
Esse livro é, mais do que um painel, uma espiral. Ascendendo,
depois de muitas voltas, idas e vindas, até achar o caminho mais simples e mais
próximo da chegada: a maturidade.
Nascido a 19 janeiro de 1943, na cidade de Santa Luz, região
sisaleira da Bahia, Guido Guerra viveu boa parte da infância e da adolescência
(1947-1958) em
Senhor do Bonfim , onde o seu pai, o futuro desembargador
Adolfo Leitão Guerra, foi Juiz de Direito.
Em Salvador estudou no Ginásio Ipiranga, no Colégio de
Aplicação da UFBA e, finalmente, no Colégio
da Bahia (Central), onde começou a fazer o curso Clássico, que não chegou a
concluir.
As redações de jornal foram responsáveis pela sua formação
posterior. Mesmo sem curso universitário obteve o registro de Jornalista
Profissional, após os muitos anos de aprendizado. Neste ponto, sua trajetória
foi idêntica a de muitos escritores brasileiros tanto do século XIX quanto do
século XX, cuja escola superior foi o trabalho diário com a palavra escrita no
calor da hora e na apressada contingência do jornal. Machado de Assis,
Graciliano Ramos, ou o baiano Herberto Sales são apenas exemplos.
Ainda estudante no Central, começou o aprendizado no Jornal da Bahia, em 1961, recém fundado
diário que teve em seus quadros intelectuais como João Carlos Teixeira Gomes ,
Florisvaldo Mattos, Glauber Rocha, Ariovaldo Matos, David Salles, Paulo Gil
Soares e outros. Pouco depois, por volta de 1962, transferiu-se para o Diário de Notícias, onde foi repórter e
logo em seguida começou a assinar uma coluna.
Sobre os anos de atuação de Guido Guerra no velho DN, Jorge
Amado deixou algumas páginas registradas no livro de memórias Navegação de Cabotagem que bem revelam o
perfil combativo do jornalista e do futuro escritor. Em 1972, o jornalista
responde pela primeira vez a um inquérito na Polícia Federal, órgão civil
responsável pela censura e pela repressão aos adversários do regime militar
implantado em 1964 e que, poucos anos depois, se caracterizaria como uma longa
ditadura de direita, a serviço da política imperialista dos Estados Unidos,
hoje plenamente hegemônica. A esta acusação de subversão, seguiram-se muitas
outras. Guido Guerra respondeu a 17 inquéritos e interpelações do regime
ditatorial. Algumas vezes foi afastado do jornal, para voltar em seguida e
tornar a ser afastado, enquanto durou a censura e a presença dos oficiais
militares nas redações dos jornais.
Em
1963, escreveu no semanário Folha da
Bahia, jornal de esquerda empastelado pelo golpe militar de 64, cuja redação
funcionava na sede do Partido Socialista Brasileiro, congregando militantes do
clandestino Partido Comunista. Em seguida passou a colaborar com o Jornal IC,
dirigido por Ariovaldo Matos e José Gorender, ambos anteriormente ligados à Folha da Bahia. A partir de 1977 retorna
ao Jornal da Bahia, onde assina a
coluna “Nariz de Cera”, transferindo-se em seguida para a Tribuna da Bahia, como redator principal da seção “Roda Viva”. Nos
anos 80 torna-se editorialista e colunista do Jornal da Bahia, funções que deixa para assinar uma prestigiada
coluna no recém-fundado Bahia Hoje,
de vida curta.
_____________________
Recordações
do escrivão Guido Guerra; ou perfil de um criador de mundos paralelos. Iararana (Salvador), v. IX, p. 16-25, 2007.
27/10/2015
Identidade
Modernismo e
identidade:
impasses e confrontos de uma vertente regional
Cid Seixas
Quando,
na Bahia, os jovens Rebeldes de 1928 se puseram em combate às estruturas
conservadoras da sociedade, dirigindo farpas e flechas à Academia Brasileira,
fundaram uma outra academia para combater a conivência acadêmica com as conveniências
da impunidade e as oligarquias do imutável.
A tempestiva reunião de intelectuais
baianos ainda jovens e desconhecidos (do porte futuro de Jorge Amado, no
romance, de Edson Carneiro, na etnografia, de Sosígenes Costa, na poesia, ou de
Walter da Silveira, no cinema e no ensaio de crítica da cultura), esta bem
temperada panelinha baiana foi marcada pela tempestuosidade de aparência
inconsequente e de consequências significativas.
Não tendo construído um grande
acervo de produção durante os seus breves anos de existência e tumulto (de 1928
a 1933), a Academia dos Rebeldes já foi vista como um movimento apenas
contestatório e demolidor. O próprio Jorge Amado, no tom despreocupado e
bonachão que revestiu e abaianou seu discurso, após abandonar as barreiras do
stalinismo e superar as limitações do Partido Comunista, foi responsável pela
disseminação de uma idéia demasiadamente modesta a respeito do papel fomentador
dos Rebeldes. Não obstante, nos últimos anos, o mesmo Jorge Amado ter legado à
posteridade depoimentos decisivos sobre o papel diferencial do grupo com o qual
se iniciou na literatura e na militância popular.[1]
A força inovadora destes jovens decorre, portanto, de um conjunto de fatos
iluminados por uma proposta própria e sociologicamente determinada de modernidade
literária, ou ainda por um fenômeno artístico que Nelly Novaes Coelho designou
de olhar inaugural.
Convém, portanto, não subestimar a
importância desta vertente sociopolítica do modernismo na Bahia pelo fato da
Academia dos Rebeldes ter constituído apenas um meteórico programa de passagem
para os seus integrantes. A curta duração deste agrupamento intelectual
deveu-se à explosão de interesses e projetos culturais múltiplos, que se
realizariam em espaços diversificados. Inteiramente distanciada e independente
do modernismo da revista Arco & flexa,[2]
a Academia dos Rebeldes procurava ignorar o modernismo
de importação da Semana de Arte Moderna de São Paulo e suas ramificações e
re-significações regionais. Enquanto a maior parte dos jovens modernistas de regiões
ou nações periféricas se contentava em traduzir para a sua cultura as
conquistas do admirável mundo novo, caracterizando assim os primeiros embates
modernistas, alguns “refratários” e rebeldes procuravam a própria identidade da
sua cultura. Identidade esta verificável no trânsito da tradição para a
inovação pressuposta pelos mecanismos do processo social. As configurações
regionais do modernismo (ver mais adiante os possíveis pontos identitários
entre os rebeldes baianos, a “escola” pernambucana de Gilberto Freyre e a
colidente modernidade de Monteiro Lobato) levaram à constituição de uma cultura
artística ou de um modernismo de
exportação. O regionalismo dos anos trinta decorre deste diferencial,
assegurando ao então jovem Jorge Amado a possibilidade de inverter uma relação
secular entre as literaturas do Brasil e de Portugal. Se até então Lisboa
estava investida no papel de metrópole intelectual das relações bilaterais,
Alves Redol vai buscar em Jorge Amado alguns pontos de sustentação da insciente
proposta que resultou na eclosão do neo-realismo português.
Revisitar
tal proposta de reconstrução da realidade brasileira – não esboçada completa e
claramente no momento da sua constituição como grupo, mas inquietantemente
detonada como caleidoscópio – é o propósito enunciado.
Comecemos
pela tentativa de explicação do título deste trabalho: “Academia dos Rebeldes (sem causa?). Revisitando uma proposta
não esboçada”. A pergunta parentética quer funcionar como provocação ou como
resposta afirmativa contrária ao aparente enunciado interrogativo.
Parte-se,
não apenas, da hipotética importância do desconhecido papel da Academia dos
Rebeldes para a moderna Literatura Brasileira, mas também da certeza que a
rebeldia, guinada à condição de título do grupo, ultrapassa os arroubos juvenis
e se inscreve como uma marca decisiva e constante dos seus participantes.
Desmontando,
aos poucos, o sentido inicialmente sugerido e a ironia das formulações,
compreende-se o porquê da criação de uma academia para combater a convivência
acadêmica com o conservadorismo. Mas estes Rebeldes também se voltaram contra
as formas de vã guardismo que
julgaram inconsequentes e dissociadas da realidade cultural brasileira. Deste
modo, admitiram a retomada das tradições que estivessem em consonância com as
necessidades concretas do homens no seio da vida social. Aí, a forma de
comprometimento ideológico destes Rebeldes define as fronteiras do seu processo
criativo, abrindo sendas para as questões políticas e identitárias – que como
tais ainda não eram denominadas.
Já se
censurou os moços de 28 pela “incoerência” de terem criado uma academia para
combater a Academia. Nada de contraditório, se aceitarmos que as academias, nas
duas acepções – de instituições do saber ou de confrarias de intelectuais –
podem estar a serviço da construção do presente e da arquitetura do futuro ou,
tão somente, podem significar a melancólica rememoração do passado.
Intitulada
aquela de Academia dos Rebeldes, seus confrades queriam assinalar o caráter
disfórico das academias instituídas e, ao mesmo tempo, recuperar a euforia acadêmica
através de uma rebeldia quase adolescente. Opor a disposição dos jovens para
mudar o mundo à apatia dos já estabelecidos diante do paradigma fóssil – eis a
proposta dos jovens baianos de 28.
Se na idade
madura, o homem repousa na confraria dos vencidos da vida, no início da
juventude a academia é dos rebeldes. E porque rebeldes, estes acadêmicos ou antiacadêmicos
baianos que ajudaram a construir o avançado patamar dos anos 30, antes mesmo de
esboçarem uma proposta de ação, fizeram irromper, a seu modo, o trabalho de
reconstrução da realidade brasileira.
Ilustre
desconhecida, a Academia dos Rebeldes se inscreve neste lugar comum da
linguagem. Cabe então retomar, um pouco, a sua história insuficientemente
contada além dos velhos muros e derruídas portadas da Cidade da Bahia.
No volume
de 1992, Navegação de cabotagem;
apontamentos para um livro de memórias que jamais escreverei, Jorge Amado diz em tom sério-jocoso: “A
Academia dos Rebeldes foi fundada na Bahia em 1928 com o objetivo de varrer com
toda a literatura do passado – raríssimos poetas e ficcionistas que se salvariam
do expurgo – e iniciar a nova era.”
(Amado, p. 84)
Seguindo um
hábito boêmio da época, quando escritores e intelectuais se reuniam em torno de
uma mesa de bar, jovens como Jorge Amado e Edson Carneiro, então com 16 anos, e
outros mais velhos, a exemplo de Alves Ribeiro, Clóvis Amorim, João Cordeiro,
Aydano do Couto Ferraz e Da Costa Andrade, também transformavam as infindáveis
discussões etílicas em inflamadas tertúlias literárias. Sosígenes Costa, poeta
da cidade de Belmonte residindo em Ilhéus, a capital dos coronéis do cacau, foi
convidado por Jorge Amado a participar do grupo. Era mais um correspondente
literário do que um frequentador das rodas boêmias, tendo raríssimas vezes se
deslocado a Salvador.
O mentor
inicial do grupo foi o poeta e agitador cultural Pinheiro Viegas, corrosivo
intelectual que também destilou seus feitos e seu fel entre os rapazes da revista
Samba[3]
que, em 1928, formavam um outro grupo atuante na Bahia. (Seixas, 1996, p.
73-79) Assim como Carlos Chiacchio foi o intelectual mais velho e já reconhecido
que serviu de fiador dos rapazes de Arco
& flexa perante a tradição baiana, Viegas se tornou patrono tanto da
Academia dos Rebeldes quanto do grupo ligado à revista Samba. Jorge Amado se refere a ele como “panfletário temido,
epigramista virulento, o oposto do convencional e do conservador, personagem de
romance espanhol, espadachim”. E na mesma passagem do texto acrescenta a
múltipla informação: “A antiacademia sobreviveu ao patrono e durou ainda um
ano; o último a obter ingresso em suas hostes foi Walter da Silveira.” (Amado,
p. 84)
Muito
embora a militância comunista tenha funcionado, em diversos momentos da vida
intelectual, como elemento redutor da autonomia da arte, o compromisso político
de alguns Rebeldes constituiu um fator decisivo para os pontos de coesão entre
estes criadores. A militância serviu de régua e compasso aos escritores que levantaram
um projeto de modernidade – visceral e epidermicamente – afinado com a
realidade do seu povo.
Quando era
o último dos sobreviventes do grupo que formou a Antiacademia de 28, Jorge
Amado procurou reconsiderar o papel desempenhado por aqueles bem humorados
mosqueteiros, que combateram o bom combate dos fins dos anos vinte aos princípios
dos anos trinta, fazendo um inventário sucinto do papel desempenhado não apenas
nos tempos da juventude mas durante toda a vida de cada um dos Rebeldes. Amado
chegou então a esta avaliação sentimental:
“Único
vivo do grupo que compôs a Academia, no exercício da saudade, faço o balanço
dos livros publicados pelos Rebeldes, por cada um de nós. A Obra Poética e Iararana, de Sosígenes Costa: sua poesia, nossa glória e nosso
orgulho; a obra monumental de Édison Carneiro, pioneiro dos estudos sobre o
negro e o folclore, etnólogo eminente, crítico literário, o grande Édison; os Sonetos do malquerer e Os Sonetos do Bem-querer, de Alves
Ribeiro, jovem guru que traçou nossos caminhos; os dois livros de contos de
Dias da Costa, Canção do Beco, Mirante
dos Aflitos; os dois romances de Clóvis Amorim, O Alambique e Massapê; o
romance de João Cordeiro devia chamar-se Boca
suja, o editor Calvino Filho mudou-lhe o título para Corja; as coletâneas de poemas de Aydano do Couto Ferraz, a de
sonetos de Da Costa Andrade; os volumes de Walter da Silveira sobre cinema –
some-se com meus livros, tire-se os nove fora, o saldo, creio, é positivo.”
(Amado, 1992, p. 85)
Fundamentando a sua avaliação,
segundo a qual o grupo teria uma destacada importância, Jorge Amado mostrou
como os Rebeldes concorreram “de forma decisiva” para o processo de formação da
moderna literatura brasileira “para dar-lhe conteúdo nacional e social na
reescrita da língua falada pelos brasileiros. Fomos além [...], sentíamo-nos
brasileiros e baianos, vivíamos com o povo em intimidade, com ele construímos,
jovens e libérrimos nas ruas pobres da Bahia.” (Idem, ibidem)
Aí, portanto, a marca da Academia
dos Rebeldes: a aliciação, ou o engajamento com formas e fundos populares
calcados no sentimento telúrico e no compromisso identitário para com os
valores da cultura nacional, ou até mesmo localista; aí, a sua linha tangencial
adversa à essência do modernismo de 22. Enquanto o olhar focado pelas lentes da
Semana de Arte Moderna espiava a cultura do povo brasileiro sob o véu da diferença
caricaturada pelo pitoresco e pelo exótico, fazendo desfilar um Brasil fantasiado
para inglês ver, a perspectiva deflagrada pela práxis textual da Academia dos
Rebeldes estava fundada na ação direta dos seus actantes. Para o escritor
identificado com os princípios capitais dos Rebeldes, o compromisso identitário
bania a superficialidade do pitoresco visto de fora, porque seu processo
criador levava em conta a situação concreta que o cercava, enquanto sujeito ou
actante da cultura.
É ainda Jorge Amado em
entrevista-depoimento para o livro Literatura
baiana – 1920-1980, organizado por Valdomiro Santana, quem afirma, propondo
uma cisão colidente entre o modernismo na Bahia e em São Paulo:
“Nós,
os Rebeldes, tínhamos um ponto de vista: queríamos uma literatura nacional, mas
com um conteúdo capaz de universalizar. Tivemos a revista Meridiano, que só saiu um número e onde está o nosso manifesto.
Quer dizer, vivemos o espírito do Modernismo – mas tínhamos uma certa
desconfiança desse movimento, aquela coisa de paulista, de língua inventada. Os
modernistas não conheciam a linguagem popular.” (Amado, 1986, p. 15)
Se a força de uma tradição social de
raízes populares mantém uma ordem de artistas sujeita à renovação fundada na
prática cultural, tais artistas estão atrelados à caminhada com os pés roçando
o chão, por mais híspido e incerto que seja o caminho. Já outros artistas,
pertencentes a uma esfera ideológica oposta, são tentados a abandonar as
veredas e picadas tortuosas pela ampla estrada da primeira miragem contemplada.
Estes últimos reluzem aos olhos como bijuterias vindas de Paris, marcadas pela
novidade e pelo rótulo da vanguarda.
Daí a facilidade com que alguns
modernistas do centro cultural do país aderiram, num primeiro momento, ao
futurismo de Marinetti, enquanto o chamado modernismo periférico (de estados
como a Bahia ou Pernambuco, citando-se apenas dois exemplos próximos) procurava
conter o novo na prática corrente ou possível da geléia geral do lugar. Visto
de relance, trata-se de um lance cauteloso ou mesmo conservador. Mas, visto com
vagar, a impressão cede espaço a uma reflexão mais consequente.
O próprio Mário de Andrade, que ao
longo da sua vida literária embebeu-se de Brasil, guardando a descoberta da
nacionalidade na bagagem do turista aprendiz,
começou cedendo ao fascínio pela novidade vinda de fora. Depois é que descobriu
que o novo se faz com materiais reciclados.
Mais uma vez, quero aproximar a
forma de construção de uma nova realidade nacional adotada por Jorge Amado e
pelo grupo dos Rebeldes daquela realizada por Gilberto Freyre, em Pernambuco,
ou, pioneiramente, por Monteiro Lobato, na solidão caipira de São Paulo. São
propostas da modernidade que, por divergirem da gramática modernista, foram
inicialmente acoimadas de anacrônicas.
E aqui insisto no caso Sosígenes
Costa, cujo poema Iararana foi
revelado aos leitores, por José Paulo Paes, já submetido ao estigma judicatório
do anacronismo, pelo próprio organizador do volume. Apesar do esforço em fazer
circular a vertente epidermicamente modernista do poeta grapiúna, esta obra
nuclear e fundadora, surgida na saliência fecunda do modernismo brasileiro, foi
vista com reserva pela crítica nacional. Sosígenes Costa só encontra lugar
entre os historiadores da literatura brasileira como poeta simbolista,
figurando no amplo painel daqueles que continuam fiéis às sutis formas de
representação do século XIX nas primeiras décadas do século XX. Tendo em vista
a produção simbolista de Sosígenes anteceder e proceder à sua desassistida
vertente modernista, convém especular se o modernismo (não a modernidade) no
poeta não seria algo de epidérmico.
Cacau
de Jorge Amado e Iararana, de
Sosígenes Costa, são textos dos três primeiros anos da década de trinta que
inauguram o ciclo do cacau, respectivamente, no romance e na poesia. O primeiro
marcado pelo realismo socialista, o segundo desmedido experimento que flutua
entre as propostas identitárias – comuns a Amado, Edson Carneiro, Sosígenes ou
Walter da Silveira – e o desafio de aceitar as blagues e os blefes da poesia
modernista de 22 ou de 28.
A originalidade do nativismo de
Sosígenes Costa salta da invenção do Brasil empreendida, no século anterior,
por Alencar, para se enveredar pelas roças de cacau do sul da Bahia. A partir
de uma metonímia localista propondo mitos fundadores de uma cultura mestiça
como figuração do nacional, Sosígenes ousa submeter a epopéia aos signos
dessacralizadores da paródia. Indo além dos inventos pioneiros de Mário de Andrade,
em Macunaíma, ou de Cassiano Ricardo,
em Martim Cererê, o rebelde Sosígenes
Costa é punido com a indiferença da crítica brasileira, pela rebeldia diferencial
de Iararana.
Ao propor a
aproximação entre os Rebeldes e Monteiro Lobato, prevejo o reconhecimento que
aos poucos se impõe. Convém lembrar aqui Oswald de Andrade em Ponta de Lança, quando
significativamente sublinhava: “Urupês
é anterior a Pau Brasil e à obra de
Gilberto Freyre.” Mais adiante, o são-joão-batista do modernismo dá a bóia por
baixo, submetendo os pioneiros de 22 à avaliação do “passadista” Monteiro
Lobato: “nós também trazíamos nas nossas canções, por debaixo do futurismo, a dolência e a revolta da
terra brasileira.” (Andrade, 1971, p. 4)
Reconhecendo
o papel manancial deste autor estigmatizado pelos modernistas de 22 e admirando
a consistência das idéias do Jeca Tatu,
Oswald diz que Lobato “oferecia um peito nu e atlético aos golpes mais
profundos de que lançam mão a usura e o latrocínio.” Convinha aos saqueadores
do Furacão-da-Botocúndia matar o homem para saquear seus bens; àqueles a quem o
autor de Ponta de Lança chamou de
“grandes carnívoros que se alimentaram muitas vezes das suas idéias, das suas
iniciativas e descobertas”. (Andrade, 1971, p. 5)
Voltando à
antiacademia dos Rebeldes, é importante que se proponha, a partir da periferia,
ou de espaços que ultrapassam os limites do centro, uma revisão do lugar, na
literatura brasileira, de escritores e de movimentos que responderam às circunstâncias
culturais das diversas regiões do Brasil.
Obras e
movimentos, a exemplo dos Rebeldes baianos, que se inscreveram na modernidade
brasileira independente ou divergentemente do Modernismo de 22, foram vistos,
durante algum tempo, como conservadores e anacrônicos, sendo deslocados do
lugar que de fato ocupam na história da nossa literatura.
O aparente
ante-modernismo pode significar a marca da diferença; a recusa de uma região do
país de abandonar a sua identidade longamente constituída. Estas formas
refratárias, desobedientes, insubmissas (de Pernambuco ou da Bahia, por exemplo),
podem ser vistas como uma forma de afirmação da modernidade nem melhor nem pior,
apenas diferente da forma surgida com a Semana de Arte Moderna de São Paulo.
Assim como o modernismo brasileiro traz uma marca diferencial com relação à
modernidade vista através dos escritores europeus, o modernismo dos vários
estados brasileiros também surgiu de condições culturais diversas daquelas do
Rio de Janeiro, capital da República, ou de São Paulo, nova capital econômica
do país. (Seixas, 2001, p. 82)
Adotar um padrão, uma gramática
modernista, a partir da ótica da maior cidade industrial brasileira, serviu
para balizamento didático de uma historiografia da literatura em processo de
escrita, mas pode relegar ao esquecimento importantes manifestações literárias
brasileiras, num país marcado pela diversidade de culturas.
Cidade mestiça, umbilicalmente
ligada ao continente africano, Salvador conseguiu superar – ou por em suspenso
– a sua ilusão de bastarda princesa européia nas obras de Jorge Amado, de
Edison Carneiro ou de Walter da Silveira, por exemplo. Estes autores souberam
ver as virtudes da diversidade: o papel do negro e da mestiçagem no processo de
formação da nossa cultura. Daí o que veio depois, a flamejante consequência da
ousadia destes Rebeldes que souberam desobedecer à norma gramatical modernista
brasileira, construindo a modernidade não a partir das quinquilharias
contrabandeadas da Europa mas da matéria bruta, prima, retirada da realidade
regional. Jorge Amado como figura essencial do romance regionalista de 30.
Edison Carneiro e os estudos etnográficos revolucionários com relação à
contribuição do negro. Uma antropologia da mestiçagem, vista não mais do lado
de fora, mas como imperativo visceral da utilização dos instrumentos da cultura
européia pelos afro-descendentes. Walter da Silveira como pensador do cinema e
formador de uma nova mentalidade cinematográfica no país. Todos sabemos que
Glauber e grande parte do cinema novo saído da Bahia não seriam os mesmos sem a
influência constelar de Walter da Silveira. Tudo isso que foi feito nos anos 30
e se reinventou, ao longo dos anos seguintes, nasceu daqueles rapazes que viam
com desconfiança o jeito de corpo dos modernistas da grande cidade. No
modernismo visto do quintal, dos terreiros, becos e ladeiras, outros bichos e
outras gentes entram na história.
Rebeldes sem causa? Pois sim...
IARARANA
Enquanto o centro intelectual
do país – representado nos primeiros anos do século XX pelo Rio de Janeiro,
Capital da República, e por São Paulo, novo pólo econômico – procurava se
manter sintonizado com o ideal de modernidade presente na sociedade e nas
literaturas européias, as regiões mais afastadas recebiam intempestivamente as
silhuetas e ressonâncias do admirável mundo novo.
Monteiro
Lobato, não obstante combatido pelas primeiras escaramuças modernistas,
orientava sua obra por um movimento de fundação identitária que corrigia os
desvios românticos da tentativa de estabelecimento de uma representação (ou de
uma imagem) nacional empreendida no século XIX. Enquanto os olhos do Brasil miravam
a Europa para reescrever o Brasil, olhos vesgos olhavam para dentro. Tal olhar,
por vesgo, torto, oblíquo, dirigido para outro lado, isto é, o lado da cá, era
tido como feio, desajeitado, curiboca. No caso, quase sinônimos.
Se em 22 a
intelectualidade paulista dividia tais hesitações com o ímpeto da Semana de
Arte Moderna, em 28 meia dúzia de rapazes baianos combatia o academicismo
dominante fundando, eles mesmos, mais uma academia. Edson Carneiro (o etnólogo),
Jorge Amado (o romancista), Sosígenes Costa (o poeta) definiram as suas obras a
partir de idéias difusamente compartilhadas na Academia dos Rebeldes. Os
baianos, apesar de novos (Jorge Amado mal completava seus dezessete anos), não
se entusiasmavam pelo Modernismo de 22, especialmente pelas ressonâncias europeizantes
que davam prestígio aos primeiros gritos da rapaziada paulista.
Deste modo
é que a cautela com que os moços da província aderiram ao modernismo do centro
soaria dissonante a ouvidos afinados com a
ruidosa sinfonia metropolitana. José Paulo Paes, no que pese a argúcia
crítica do ensaio “Iararana ou o Modernismo
visto do quintal”, com que introduziu a sua excelente edição do poema nuclear
de Sosígenes Costa, pautou a análise pela idéia recorrente de um caráter anacrônico
do texto do poeta baiano.
É a
propósito de um aparente descompasso, ou de uma oscilação dialética entre
tradição e ruptura, presente na indiferença ou na desconfiança inicial dos integrantes
da Academia dos Rebeldes para com os Modernistas de São Paulo, que foi arrolado
o episódio Monteiro Lobato. Enquanto brios e brilhos da Semana de Arte Moderna
refletiam luzes de Paris, projetando sombras sobre a Mata de Pau Brasil,
projetos de modernidade essencialmente fundados numa concepção nacionalista,
como os de Lobato, em São Paulo, de Gilberto Freire, em Pernambuco, de Jorge
Amado e seus companheiros, na Bahia, não prescindiam das tradições identitárias
nacionais e locais, pois sobre elas ergueriam seus patamares.
Convém,
observar ainda que a modernidade brasileira, através das suas diversas
manifestações e modernismos literários, ao trocar os temas de circulação
européia e metropolitana por objetos constituídos pela identidade local,
flutuou entre dois enfoques. O primeiro encerra uma visão da nossa cultura com
olhos externos (embora esses olhos já sejam os nossos), onde o pitoresco e o
exótico extasiam o expectador, como o olhar do viajante. O segundo constitui
uma visão vividamente interior, menos feérica na medida em que projeta luzes e
sombras, grandezas e misérias.
É esta
procura de uma representação de essência realista que dará forma a uma sociologia do negro nas obras de Edson
Carneiro e de Jorge Amado; ou da cultura do cacau nos textos de Sosígenes
Costa, de um lado, e Jorge Amado, do outro. Enquanto Amado inicia sua saga do
cacau para denunciar a exploração do trabalho e a usurpação do lucro,
Sosígenes, também no começo dos anos trinta, escreve Iararana para denunciar a usurpação do poder de uma cultura por
outra estranha e invasora.
Gilberto
Freire sustentava a atualidade do seu discurso numa análise da tradição brasileira
e colonial portuguesa consonante com o mais rigoroso aparato conceitual da
cultura moderna. Monteiro Lobato quis renovar a literatura nacional convocando
um elenco de personagens com os pés fincados na tradição cultural da nossa
terra. O que une a todos eles é o compromisso com a cultura da sua nação,
sobreposta à idéia de uma modernidade importada a custo da perda da própria
identidade nacional, ou mesmo regional. Daí, a oscilação pendular que poderia
manter a renovação em suspenso caso esta implicasse numa descaracterização
cultural.
Embora
atento à diversidade destes fatos, José Paulo Paes parte da eleição de um tempo
e de um lugar modelares, com base nos quais orienta seus pressupostos críticos.
É verdade que o mesmo estudo, que aponta para – ou adere a – um topocentrismo
cristalizado, também valoriza a diferença.
Enquanto
Menotti Del Picchia, na sua conferência durante a Semana de Arte Moderna,
bradava enfurecido: “Morra a Hélade! Organizemos um zé-pereira canalha para dar
uma vaia definitiva e formidável nos deuses do Parnaso!”; enquanto Menotti
orquestrava a vaia, Sosígenes promovia um insólito sincretismo da mitos
indígenas com a mitologia clássica, engenhosamente tratada pelo viés burlesco.
Se a
tradição poética brasileira, conhecida por Sosígenes Costa e pelos circunspectos
leitores baianos do início do século passado, flectia-se de modo reverencial, e
até mesmo servil, ante mitos e mimos do mundo clássico, o poeta das roças de
cacau metia tudo no saco de gatos de uma presepada curiboca, mestiça e sestrosa
– sobretudo safada.
José Paulo
Paes sentencia:
É
bem verdade que os deuses do Parnaso comparecem em Iararana sob o signo negativo da paródia – signo modernista por
excelência e particularmente caro a Sosígenes Costa, a quem ensejou invenções
notáveis –, mas nem por isso deixam de ali estar menos presentes. Outro traço
diferencial do poema é o empenho, mais que nacionalista, localista: sua ação se
passa quase toda em Belmonte, a cidade natal do poeta, e isso é assaz significativo.
Significa, quando mais não fosse, filiar-se Iararana
menos àquele nacionalismo de programa que levava o paulista Mário de Andrade e
o gaúcho Raul Bopp a procurarem na distante Amazônia, deles conhecida somente através
dos livros, inspiração para Macunaíma
e Cobra Norato, do que a nostalgia da
infância subjacente a boa parte das peças reunidas na Obra Poética, especialmente na sua parte final, "Belmonte,
Terra do Mar", tida por Manuel Bandeira como a de "maior força"
no conjunto do livro. Um exame do poema permitirá destacar melhor esses
aspectos diferenciais. (Paes, 1979, p. 17)
O cerne da
questão aqui levantada é o des-valor, implícita ou explicitamente, imputado a Iararana quando a análise de José Paulo
Paes, que apresenta o poema ao leitor, adere a um topocentrismo silencioso e
pacificamente estabelecido. Chame-se novamente atenção para o fato do estudioso
paulista operar seu enfoque crítico com base em um tempo e em um lugar
modelares. (Os gregos e os romanos tomavam sua urbe como centro do mundo. Os
norte-americanos até hoje pensam que Buenos Aires é a capital do Rio de
Janeiro. São Paulo acha feio tudo que não é espelho.)
É evidente
que a blague e a ironia não desmerecem o trabalho do crítico sosigeniano,
querem apenas sublinhar o lugar de onde ele fala. É por isso que José Paulo conduziu
sua interpretação crítica sustentada na idéia recorrente de que o texto do
poeta da roça está marcado por um caráter anacrônico. E é talvez esta
observação que teria provocado a idéia de valoração negativa nos leitores da análise
crítica responsável pela reposição da obra no circuito dos estudos sobre o
modernismo brasileiro.
Não
obstante a força e a originalidade desta obra, transcorridos mais de vinte anos
da diligência de José Paulo Paes para colocá-la em circulação, Iararana ainda não conquistou um lugar
de destaque, figurando entre os textos de natureza similar, como o Cobra Norato, de Raul Bopp (ao qual se
sobrepõe e supera em alguns aspectos essenciais), e o Macunaíma, de Mário de Andrade, na linha de construção de um herói
nativo; ou mesmo como o Martim Cererê,
de Cassiano Ricardo, que incorpora e valoriza outros elementos culturais. Os
livros pioneiros dos paulistas Mário de Andrade e Cassiano Ricardo são
publicados em 1928, enquanto os poemas do gaúcho Raul Bopp e do baiano
Sosígenes Costa só serão escritos no início dos anos trinta, quando o
Modernismo Brasileira já era uma realidade geradora de tendências contrapostas
e bem definidas, adquirindo um caráter e uma abrangência nacionais.
Comparados
a Macunaíma e a Martim Cererê, os poemas Cobra Norato e Iararana remetem a um outro
momento modernista, momento em que a sociedade brasileira havia passado
por profundas transformações. Curiosamente, o poema de Raul Bopp – fiel ao
figurino nativista dos anos 20 – foi suficiente para colocar seu autor ao lado
dos pioneiros do Modernismo Brasileiro, enquanto o de Sosígenes Costa – já marcado
pela consciência identitária nacional e localista que perpassaria a literatura
dos anos 30 – continua merecendo atenção secundária. Como exemplo, observe-se o
lugar ocupado pelo poeta grapiúna em uma entre as principais Histórias da
Literatura Brasileira que permitem uma perspectiva atualizada da produção do
século XX, a de Massaud Moisés: o capítulo “Retardatários”, dedicado aos poetas
Joaquim Cardozo, Dante Milano e Sosígenes Costa, embora garanta a Sosígenes “um
lugar de destaque nos quadros da poesia moderna” (Moisés, 1989, p. 437),
cataloga Iararana como um texto de
“valor sobretudo histórico”. Observe-se como a perspectiva de José Paulo Paes
teria influenciado um leitor rigoroso como Massaud Moisés, tanto que o historiador
destaca a seguinte passagem do estudo crítico de Paes: “não há como fugir à evidência
de que o primitivismo de Iararana já
tinha algo de anacrônico no momento mesmo de composição do poema, anacronismo
que a publicação do seu texto só faz aumentar”. (Idem, p. 436)
São fatos
desta natureza que podem condenar um texto ao purgatório crítico, bem como dar
destaque a outros que o tempo poderá obscurecer. Iararana, de Sosígenes Costa, é portanto um poema que atravessa o
longo processo inquisitorial de canonização, ou de condenação, no ano do
centenário de nascimento do autor. A responsabilidade dos novos leitores e
estudiosos da sua obra, sobretudo na esfera da Universidade, onde os estudos
investigatórios mais verticais ganham espaço, decidirá o lugar a ser ocupado
por este texto nos primeiros anos do século XXI.
Coetâneos e
igualmente épicos, Cobra Norato e Iararana remetem a uma mesma filiação
indianista, o que justifica o ensejo de estudos comparativos destinados a fixar
as convergências e as diferenças. Na primeira categoria, a das convergências,
ambos estão sustentados em temas e linguagem retirados do inventário popular, embora
Iararana submeta a história nacional,
atrelada à história e à ancestralidade mitológica da civilização colonizadora,
a um tratamento coloquial e a um registro linguístico deliberadamente popular e
paródico – chistoso.
Terminada a
escrita de Iararana, Sosígenes enviou
a um companheiro da Academia dos Rebeldes, Edson Carneiro, uma carta datada de
5 de dezembro de 1933, dando conta do texto de caráter deliberadamente
modernista. Na sua linguagem informalmente irreverente, chamava o poema de “um
negócio grande preparado este ano, que posso publicar, caso vocês achem que
presta e está bom. Não é um negócio de coisas reunidas. É um negócio inteiro. É
Iararana.” Em outra passagem da
carta, ele detalha: “Começa com versos livres, soltos como menino no pasto,
pula num samba, emenda por um coco, cai de novo no samba e termina falando como
a gente fala para encurtar a história e não amolar a paciência.”
Observe-se
que mesmo avesso a publicações, Sosígenes está inclinado a editar o texto, caso
os companheiros “achem que presta e está bom”. A propósito desta falta de
entusiasmo do poeta pela divulgação da sua obra, Jorge Amado escreveu:
Neste
nosso país no qual até hoje os poetas pagam a edição de seus primeiros livros
deu-se, em 1959, um acontecimento insólito: uma editora, a Leitura, do Rio, solicitou a um poeta até então inédito
os originais do seu primeiro livro; e o poeta, em vez de mostrar-se lisonjeado,
simplesmente recusou-se a atender ao pedido quase absurdo. Somente à insistência
pertinaz dos amigos ele finalmente cedeu. Assim apareceu a edição de Obra Poética de Sosígenes Costa. Neste
nosso país em que os poetas começam aos 16 anos – e alguns morrem ainda quase
adolescentes – um grande artista concedia em ser publicado quando estava
próximo dos sessenta. Este seu único livro, uma edição de mil exemplares, é
hoje raridade bibliográfica.
Sosígenes
Costa "era muito retraído", como se diz ainda hoje em Ilhéus, cidade
da região cacaueira da Bahia onde ele viveu, sem ser percebido, a maior parte
de sua vida. Sua participação no movimento literário limitou-se, nos últimos
anos da década de 20 e ao início dos anos 30, ao vínculo com um grupo
modernista – não sei se a designação é
correta; será pelo menos discutível – a Academia dos Rebeldes, de Salvador. Sob
a égide de Pinheiro Viegas (poeta mais conhecido pelo seu jornalismo
panfletário do que pelos sonetos e poemas de pequena circulação) esse grupo
tentava renovar a literatura baiana, ao lado dos moços de Arco & Flexa e de Samba.
Os poemas de Sosígenes Costa apareciam a espaços nas páginas de jornais e
revistas e granjearam-lhe um punhado de leitores, círculo numericamente
reduzido mas de alta qualidade e cheio de admiração.
A
publicação de Obra Poética causou, na
ocasião, um certo impacto, naquele momento dominado pelas experiências
concretistas [1959]. O livro de Sosígenes Costa obteve dois prêmios literários,
um no Rio, e outro em São Paulo; mereceu artigos e louvores variados, inclusive
dos concretistas. (Amado, 1979, p. 22)
Após esta
citação relativamente longa de Jorge Amado, procuremos retomar o fio do
raciocínio interrompido. Apesar de alheio ao mundo das editoras, em 1933 Sosígenes
Costa pretendeu submeter Iararana ao crivo dos seus pares rebeldes. Infelizmente
desconhecemos a reação de Edson Carneiro e de Jorge Amado diante do poema que
inaugurava, na Literatura Brasileira, a gesta cacaueira. Neste mesmo ano de 33,
Jorge Amado publicou Cacau, abrindo a
saga que se desdobraria em Terras do Sem
Fim, São Jorge dos Ilhéus e Gabriela
Cravo e Canela, para ser encerrada com a síntese memorável que é Tocaia Grande, livro pertencente a este
filão temático do escritor, que atravessa o realismo socialista e chega à
escrita despojadamente popular e oral da maturidade.
O
levantamento – que se impõe, por necessário – da correspondência de Sosígenes
com os outros integrantes da Academia dos Rebeldes poderá esclarecer pontos
desta ordem e servir de subsídio para a compreensão de um momento paradigmático
da nossa literatura, os anos 30.
Unitariamente
concebidos como epopéias modernas, Cobra
Norato e Iararana respondem
diversamente às inquietações dos anos 30, sendo que o segundo traz de acréscimo
uma contundente crítica ao processo de colonização, retomando a idéia de estupro
ou de violentação de uma raça, já presente, de modo secundário, no romance indianista
de José de Alencar.
Mas, apesar
destes pontos comuns, o poema de Raul Bopp continua sendo tomado como caso
exemplar único de epopéia modernista. Desde a década de setenta, quando a
Civilização Brasileira publicou quatro bem sucedidas edições de Cobra Norato (a primeira delas em 1973 e
a última em 1978), com nota introdutória do filólogo Antonio Houaiss e
ilustrações de Poty, este poema passou a ter audiência nacional. Impresso
inicialmente em 1931, na Gráfica Irmãos Ferraz, de São Paulo, o poema só ganhou
uma outra edição em 1937, de apenas 150 exemplares numerados. Dez anos depois,
o autor faz uma nova edição do texto, incluído no livro Poesias, de 500 exemplares, seguindo assim um curso de pequeno vulto.
Creio que o volume intitulado Cobra
Norato, o poema e o mito, de Othon Moacyr Garcia, publicado em 1962 pela
bem frequentada Livraria São José, do Rio de Janeiro, contribuiu para inaugurar
uma nova recepção do Cobra Norato.
Bem aceita pela crítica, a análise interpretativa do autor culmina com a
afirmação consagradora:
Sendo
o único e verdadeiro poema épico da literatura brasileira (porque popular pela
essência do tema e pela feição da forma verbal), já que às tentativas
anteriores – desde o Caramuru e O Uruguai até o I Juca Pirama e O Caçador de
Esmeraldas e quantos se arrolem como tais – falta-lhes a feição de unidade
temática e linguística de vínculo popular e legítimo sabor de brasilidade, – é Cobra Norato um dos melhores legados do
Movimento Modernista, um dos grandes poemas destes sessenta anos de literatura
brasileira do século XX. (Garcia, 1962)
No ensaio
pioneiro “Iararana ou o Modernismo
visto do quintal”, de 1979, José Paulo Paes, obedecendo ao rigor da sua
investigação, aplicado ao estudo de “gregos e baianos”, caracteriza o poema de
Sosígenes Costa como devem ser caracterizadas narrativas como esta (ou como Cobra Norato):
A palavra saga, há pouco usada,
deve ser entendida no seu sentido mais próprio, aquele que lhe dá André Jolles
quando a considera uma "forma simples" ou primordial (de que a
epopéia é a sucessora literariamente erudita) e a define como a narrativa de
acontecimentos pretéritos, oriunda de "uma disposição mental em que o
universo se constrói como família e se interpreta, em seu todo, em termos de
clã, de árvore genealógica, de vínculo sanguíneo" e em que assume o
primeiro plano "o representante heróico de um clã determinado, o detentor
hereditário das altas virtudes de uma raça". Tal conceituação se ajusta de
perto ao argumento de Iararana a
partir do momento em que se desenvolve o tema da descendência de Tupã-cavalo.
(Paes, 1979, p. 15)
Para fundamentar seu raciocínio,
José Paulo Paes, examina alguns pontos essencial do mito mestiço criado por
Sosígenes Costa, desde o início do tema quando o centauro Tupã-cavalo,
"bicho mondrongo" chegado de Portugal, não encontra entre os seres
fabulosos do Brasil – “a mula-sem-cabeça, a rainha dos jacarés, a caipora” –
aquela com quem possa casar. Nas suas andanças de macho sem rédea,
Uma
anta medonha com cara de homem
Entrou
pela barra nadando no mar.
Assim
os seres nativos identificaram o invasor até que, no diálogo da cena II, onde o
narrador assume a figura do avô que conta a história ao neto (este “menino do
céu”, como se verá mais tarde, o verdadeiro herói do poema):
– Mas que bicho danado era este?
Mas que bicho era este, senhor?
– Menino, este bicho veio da Oropa.
– Mas na Oropa tem anta, me diga?
Olhe, me avô, que na Oropa não tem
anta.
– Esta anta com cabeça de gente não
era anta, meu neto.
Aquilo era cavalo da Oropa com
cabeça de gente.
Desta forma tomamos conhecimento da
chegada do cavalo com cara de homem às matas primitivas do Brasil. Na procura
de fêmea, o monstrengo vê a Iara do rio Jequitinhonha penteando os longos
cabelos verdes à margem rio e a arrasta para o canavial, possuindo a senhora
das águas com brutalidade. O estupro da nativa pelo europeu é representado na
quarta parte do poema, através de um ritmo cheio de balanço e malícia:
Ora, um dia a cana brava pegou fogo,
Fogo pegou na cana brava,
ninguém passe mais por lá.
Olha o fogo no canaviá.
O fogo devorando tudo remete o
leitor em duas direções: a cana queimada e os corpos incendiados pelo ato de
desejo. O ritmo ostensivamente folclórico do samba mostra no poema as pessoas correndo de “saia suspensa” ou de
“roupa arribada”. O rio Jequitinhonha responde à agressão contra sua senhora
das águas, a Iara, inundando tudo para afogar o invasor. Segundo José Paulo
Paes, o episódio “comporta duas leituras: explicação mítica das enchentes
periódicas do Jequitinhonha, tão temidas pelas suas populações ribeirinhas” ou
ainda uma “figuração da hostilidade da natureza ao estrangeiro violador.”
(Paes, 1979, p. 14-15). Na esteira de uma análise da estrutura mítica da saga, o crítico lembra que o fato paradoxal
de um acontecimento único explicar inundações que se repetem em outros tempos
obedece à “mecânica do mito, que reitera perpetuamente um acontecimento
primordial”.
Nove meses depois do incêndio no
canavial se dá o parto da Iara, quando
nasce Iararana, descrita como de uma brancura de lagartixa, comparada ao pai
tanto na cor quanto no caráter cruel. “Nessa brancura, que mostra ter Iararana
puxado muito mais ao pai do que à mãe, confirma-se a violentação, cujo fruto
perpetua o violentador, mais que a violentada.”
É este
poeta “quase completamente esquecido” que precisa ser mais publicado e mais
lido para figurar, conforme as palavras de Jorge Amado, “entre os grandes, aqueles
que existirão enquanto existir a língua portuguesa, e devolver ao público leitor
um bem que de direito lhe pertence e lhe era negado, o verso de Sosígenes Costa.”
Referências
ALVES, Ívia. Arco & Flexa:
Contribuição para o estudo do modernismo. Salvador, Fundação Cultural do Estado
da Bahia, 1978, 156 p.
AMADO, Jorge. Apresentação.
In: Costa, Sosígenes. Iararana. Introdução, apuração de texto
e glossário por José Paulo Paes; apresentação de Jorge Amado; ilustrações de
Aldemir Martins. São Paulo, Cultrix, 1979.
Amado, Jorge. Academia dos
Rebeldes. In Santana, Valdomiro
(org.). Literatura baiana 1920-1980. Rio de Janeiro, Philobiblion, 1986.
Amado, Jorge. Navegação de cabotagem; apontamentos para um
livro de memórias que jamais escreverei. Rio de Janeiro, Record, 1992.
Andrade, Oswald de. Ponta de Lança. 2ª ed. Rio de Janeiro,
Civilização Brasileira, 1971.
ARCO & FLEXA: edição
fac-similar, revista literária de 1928/1929, Salvador, Fundação Cultural do Estado
da Bahia, 1978. (n° 1, 66 p.; nº 2/3, 70 p.; nº 4/5, 90 p.
COELHO, Nelly Novaes.Literatura e
linguagem. 3ª ed, São Paulo, Quiron, 1980, 389 p.
COELHO, Nelly Novaes. A
literatura infantil. 4ª ed, São Paulo, Quiron, 1987, 199 p.
COSTA, Sosígenes. Obra poética.
2ª ed., Organização , apresentação e notas de José Paulo Paes. São Paulo,
Cultrix, 1978, 317 p.
Costa, Sosígenes. Iararana. Introdução, apuração de texto,
estudo introdutório e glossário por José Paulo Paes; apresentação de Jorge
Amado; ilustrações de Aldemir Martins. São Paulo, Cultrix, 1979.
Garcia,
Othon Moacyr. Cobra
Norato, o poema e o mito. Rio de Janeiro, São José, 1962.
MARQUES, Nonato. A poesia era uma festa.
Ensaio-depoimento e antologia. Salvador, GraphCo, 1994, 140 p.
MOISÉS, Massaud. História da literatura brasileira. Vol.
3: Simbolismo. São Paulo, Cultrix,
1989.
PAES, José Paulo. Pavão parlenda paraíso: uma tentativa de
descrição crítica da poesia de Sosígenes Costa. São Paulo, Cultrix, 1977.
PAES, José Paulo. Iararana
ou o modernismo visto do quintal. In COSTA,
Sosígenes. Iararana. São Paulo, Cultrix, 1979, p. 3-19.
SEIXAS, Cid. Triste Bahia, oh! Quão dessemelhante. Notas
sobre a literatura na Bahia. Salvador, EGBA / Secretaria da Cultura e
Turismo, 1996. (Coleção As Letras da Bahia)
SEIXAS, Cid. Sosígenes
Costa: Epopéia cabocla do modernismo na Bahia. In PÓLVORA, Hélio (org.). A Sosígenes, com afeto. Salvador,
Edições Cidade da Bahia, 2001, p. 75-84.
(Modernismo e diversidade: impasses e confrontos de uma vertente
regional. Légua & Meia, Feira de
Santana, v. 3, n.2, p. 52-61, 2004.)
[1]
O volume Navegação de cabotagem;
apontamentos para um livro de memórias que jamais escreverei, composto por
anotações e pela recuperação de dados guardados na memória, é uma preciosa
fonte não somente para o conhecimento do trajeto intelectual do romancista
Jorge Amado, como da vida cultural brasileira e dos percalços políticos e
sociais do século XX.
[2]
Arco & Flexa (flecha com x),
mensário modernista baiano do final dos anos vinte que reuniu escritores como
Carlos Chiacchio, Carvalho Filho, Hélio Simões, Pinto de Aguiar, Eurico Alves,
Godofredo Filho, Eugênio Gomes, dentre outros. Além dos baianos, escritores de
outros estados participaram da revista, a exemplo do gaúcho Raul Bopp, do
“Clube de Antropofajia” (sic), de São Paulo, que compareceu com o poema inédito
“Putirum”, depois incluído no livro Cobra
Norato, de 1931. Sobre Arco &
Flexa ver a edição fac-similar de
1978 e a monografia de Ívia Alves, constantes das referências bibliográficas,
no final deste texto.
[3] Samba, revista surgida na Bahia em
novembro de 1928, reunindo jovens escritores hoje conhecidos como os “poetas da
Baixinha”, designação difundida por Nonato Marques, pelo fato dos seus integrantes
se reunirem num café da Baixa dos Sapateiros. Ao contrário de Arco & Flexa que era composta pela
chamada elite social e intelectual de Salvador, o grupo da Baixinha incluía
pessoas simples como o Guarda Civil 85 e o alfaiate Bráulio de Abreu, hoje
reconhecido como o decano da poesia baiana. Em fevereiro de 1993 algumas comemorações
marcaram os cem anos de vida do poeta. Sobre o Grupo da Baixinha, a revista Samba e algumas publicações baianas ver
o livro de Nonato Marques A poesia era
uma festa.
Assinar:
Postagens (Atom)